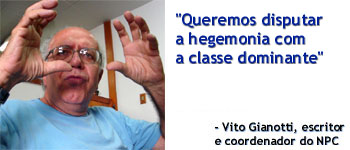
Vito Gianotti nasceu em uma família proprietária de uma pequena fábrica de calçados, na Itália. Seu pai era fascista, “inimigo mortal dos socialistas e comunistas”. Apesar da influência que recebeu no lar – e talvez justamente por causa dela – resolveu dedicar a vida para lutar ao lado da classe trabalhadora, contra a exploração. Viajou o mundo e acabou no Brasil, onde se tornou metalúrgico e engajou-se na resistência à ditadura militar. Sua universidade foi a fábrica. Fanático por livros, devorou muitos. E escreveu 20, dentre os quais Muralhas da Linguagem (Mauad, 2004) e o recém-lançado História das lutas dos trabalhadores no Brasil (Mauad, 2007). Hoje, com 63 anos, coordena o Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC), entidade que se dedica a aperfeiçoar a comunicação dos trabalhadores para disputar a hegemonia na sociedade.
Entrevista concedida a Bruno Zornitta.
Como começou seu envolvimento com as lutas dos trabalhadores? Você teve alguma influência familiar?
Tive uma influência da minha família no sentido contrário. Minha família tinha uma pequena fábrica de calçados e meu pai era fascista, inimigo mortal dos socialistas e comunistas. Por rebeldia natural, eu sempre tive contato com os operários que trabalhavam para meu pai, todos anarquistas ou comunistas. Eles me contavam as coisas, queriam me abrir a cabeça. Eu ficava chocado de ver as realidades dos trabalhadores, que na minha casa eram completamente escondidas. Então, eu diria que virei de esquerda por contraposição ao meu pai, e acabei depois encontrando a realidade da classe trabalhadora, conhecendo, e resolvi me engajar nessa luta. Saí da faculdade onde eu estava para viver a realidade da maioria da população e me engajei na luta para tentar melhorar esse mundo.
E por que você decidiu sair da Itália?
Para conhecer o mundo. Tinha 20 anos, era a época do Che Guevara. Eu queria conhecer o mundo e encontrei a realidade da classe trabalhadora.
Em que ano você chegou ao Brasil?
Em 1966. O propósito de me engajar na luta foi se firmando na medida em que eu via a realidade de exploração, de opressão, de discriminação racial. Toda aquela realidade brasileira, que era substancialmente parecida com o que é hoje. O que determinou minha paixão pelo Brasil foi um livro que eu li em 60, chamado “Geografia da fome”, de Josué de Castro. Para mim foi marcante, pois mostrava a realidade do nordeste, sobretudo de Recife, e a fome que havia no Brasil.
Aí você foi para São Paulo e virou metalúrgico.
Virei, porque, na visão do grupo político ao qual eu pertencia, você tinha que ser operário e, concretamente, metalúrgico. Os metalúrgicos eram a categoria mais organizada e mais disposta a ir à luta, por várias razões sociológicas. Aí eu fiz uma porção de cursos de especialização e virei um profissional bom, um torneiro ferramenteiro.
E o que você havia estudado antes, na Itália? Filosofia?
É, filosofia e sociologia, mas não me interessei, absolutamente. Abandonei, e a partir daí nunca mais me passou pela cabeça entrar em uma faculdade. Sempre estudei, li muito. Aprendi com os livros bons. Sou fanático por leitura e acabei conhecendo muita coisa, além de escrever vários livros mais tarde.
Como começou esse interesse pela comunicação?
Muito simples: eu estava na fábrica com um objetivo político, que era despertar pessoas para a luta contra a ditadura. Mas não só, pois a ditadura militar era uma coisa passageira, conjuntural. O que era estrutural, o objeto de nossa grande batalha, era a exploração capitalista, a exploração do trabalhador. O meu objetivo, como o de muitos companheiros, era o de conversar, dialogar, convencer os companheiros de que a situação que estava colocada era de uma injustiça tremenda e nós tínhamos que mudá-la. E para isso tínhamos que nos organizar. Como se faz isso? Conversando com o outro e, se você quiser conversar com muito mais gente, tem que escrever. Então, desde o começo, em 68, 69, começamos a fazer os jornaizinhos de fábrica; uma folha de ofício dobrada. Ou duas folhas, que dava oito páginas, o que já era uma grande façanha. Jornais clandestinos, evidentemente, que falavam contra a ditadura, contra a opressão dos patrões. Era uma necessidade de despertar pessoas para a luta. Sempre procurando fazer bons boletins, bonitos, na medida do possível, com os recursos paupérrimos que nós tínhamos na época. E com uma linguagem acessível.
Quais as dificuldades que você enfrentou? Porque além da questão de ser clandestino, tinha essa outra questão da linguagem, que você tocou.
A nossa linguagem, da esquerda, nos distanciava daqueles que não participavam dos nossos cursos, que não liam nossos livros clandestinos, ou que não liam livro nenhum – a imensa maioria dos trabalhadores. Então, nossa linguagem, típica de esquerda, era uma linguagem de iniciados. Típica de quem fala com seus companheiros, que são todos da mesma patota. Só que a imensa maioria dos trabalhadores não era da nossa patota. Daí a necessidade de ter uma linguagem que fosse compreensível, acessível, inteligível para todos os companheiros que nós queríamos despertar para a luta concreta contra a ditadura e contra os patrões. A preocupação com a linguagem era como se fosse a preocupação com o oxigênio que se respira. A linguagem de quem participa de uma luta organizada acaba muitas vezes parecida com a linguagem de uma pessoa de outro mundo.
Afasta mais do que aproxima, não?
No mínimo, deixa indiferente. As pessoas não entendem. Ou então afasta mesmo, nos acham malucos, doidos de pedra. Em meados de 70, comecei a perceber que, ou nós falávamos a linguagem dos “normais”, ou ficaríamos falando sozinhos. Em 79, 80, passei a ser o responsável pela publicação de um jornal muito bonito, de quatro páginas, mensal, chamado Luta Sindical, da Oposição Metalúrgica de São Paulo. Foi ele que me impulsionou nesse caminho, de procurar uma linguagem acessível. Eu me lembro uma vez que escrevi que determinada proposta de reajuste do governo era um “engodo”. Meu amigo falava: “O que é engodo? Qual o trabalhador que entende engodo? Vamos traduzir”. Ele começou a usar a palavra “traduzir”. Fiquei impressionado. Ele falava: “Isso aqui é intelectualês, isso é juridiquês, é economês, sindicalês”. Em 1985, eu escrevi um livrinho chamado O que é jornalismo operário? Metade desse livro falava da linguagem.
Depois você escreveu outros livros sobre comunicação sindical, até escrever o Muralhas da Linguagem.
Exato. O Muralhas da Linguagem trata especificamente dessa questão. Estou convencido de que isso é uma tragédia até hoje. Às vezes textos belíssimos, escritos com a preocupação de despertar o trabalhador, não serve
m para absolutamente nada.
Porque são escritos em chinês!
E o Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC), como surgiu?
No início dos anos 90, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Eu era metalúrgico, mas não tinha condições de continuar nesse trabalho, pois já tinha 45 anos. Além disso, eu queria passar para muita gente o que eu tinha vivido, aprendido, etc. Aí, encontrei com Claudia Santiago, que já era jornalista sindical há sete ou oito anos e trabalhava na CUT, como trabalha hoje. Começamos a pensar em desenvolver essa atividade de ensinar, de aperfeiçoar a comunicação dos trabalhadores. Nós partimos do princípio de que o nosso público, os leitores, todos eles assistem ao Jornal Nacional à noite e ao Fantástico, aos domingos. Esses programas, desgraçadamente, são muito bonitos. Eles ditam o padrão de beleza que o povo espera encontrar. Então, nós pensamos que temos que fazer jornais bonitos, senão eles podem ter o melhor conteúdo do mundo, podem ser ditados diretamente pelos deuses, que serão jogados fora merecidamente. A segunda grande preocupação que tivemos foi com a linguagem. A terceira preocupação foi a de que os nossos jornais têm que ter um conteúdo, uma pauta, capaz de fazer a disputa de hegemonia que está colocada na sociedade. Ou seja, hoje a hegemonia está com a classe dominante, que eu chamo de burguesia. Nós queremos disputar com eles. A nossa luta é uma luta contra-hegemônica. Queremos colocar a nossa visão, que é contrária à deles, uma antítese. Na nossa visão, o problema dos jornais sindicais é que a maioria só trata de questões específicas da categoria, cada um fala do seu próprio umbigo. São assuntos imediatos: o aumento, o bebedouro, as condições e o horário de trabalho, por exemplo. São coisas mais do que legítimas, mas não podemos nos limitar a isso. Temos que mostrar o que está por trás disso. Em que sociedade estamos vivendo. Como se faz essa luta para diminuir os acidentes de trabalho, para ter um aumento de salário. Qual a ligação entre esse salário e o projeto neoliberal que está aí. Ou seja, temos que ampliar a nossa pauta.
Você acaba de lançar o livro História das lutas dos trabalhadores no Brasil. Que análise você faz da conjuntura atual para os trabalhadores?
Está muito ruim. Faz 15 anos que, no Brasil, nós estamos perdendo direitos. Porque na década de 80, tivemos grandes lutas pelo fim da ditadura e foi a década recorde de greves. Então, enquanto se implantava o neoliberalismo no mundo, aqui no Brasil nós estávamos em uma ofensiva dos trabalhadores, com fundação de partidos, de centrais sindicais e com a luta dos sindicatos. Em 1990 começou exatamente o contrário, um refluxo com a implantação desse projeto, baseado no desemprego. O desemprego é essencial para o neoliberalismo, é um bem a ser perseguido. Então, os trabalhadores passaram a ficar na defensiva, diminui enormemente o número de greves e começaram a ser retirados direitos. Dia 1° de maio é o dia da conquista da jornada das oito horas de trabalho. Hoje em dia, segundo dados do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), 60% dos trabalhadores com carteira assinada já não têm mais oito horas fixas. Existem vários tipos de acordos e convênios para retirarem essa conquista. A única palavra que o capitalismo neoliberal dá para essa situação é: dane-se! O neoliberalismo quebrou os trabalhadores e nós estamos numa tremenda defensiva, tentando segurar, salvar o salvável. É o salve-se quem puder!
